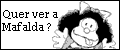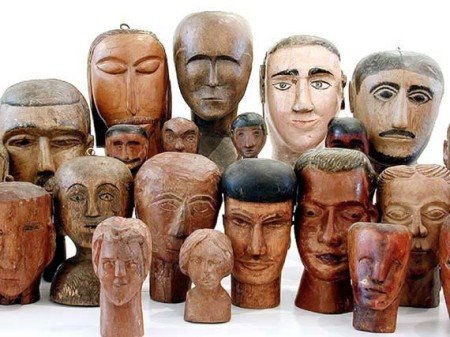sábado, 28 de fevereiro de 2009
DO " LIVRO DO DESASSOSSEGO" - FERNANDO PESSOA - (sobre a inteligência e o instinto)
”Tudo vem da sem-razão”, diz-se na Antologia Grega. E, na verdade, tudo vem da sem-razão. Fora da matemática, que não tem que ver senão com números mortos e fórmulas vazias, e por isso pode ser perfeitamente lógica, a ciência não é senão um jogo de crianças no crepúsculo, um querer apanhar sombras de aves e parar sombras de ervas ao vento.
E é curioso e estranho que, não sendo fácil encontrar palavras com que verdadeiramente se defina o homem como distinto dos animais, é todavia fácil encontrar maneira de diferençar o homem superior do homem vulgar.
Nunca me esqueceu aquela frase de Haeckel, o biologista, que li na infância da inteligência, quando se lêem as divulgações científicas e as razões contra a religião. A frase é esta, ou quase esta: que muito mais longe está o homem superior (um Kant ou um Goethe, creio que diz) do homem vulgar que o homem vulgar do macaco. Nunca esqueci a frase porque ela é verdadeira. Entre mim, que pouco sou na ordem dos que pensam, e um camponês de Loures vai, sem dúvida, maior distância que entre esse camponês e, já não digo um macaco, mas um gato ou um cão.
Nenhum de nós, desde o gato até mim, conduz de facto a vida que lhe é imposta, ou o destino que lhe é dado; todos somos igualmente derivados de não sei quê, sombras de gestos feitos por outrem, efeitos encarnados, consequências que sentem. Mas entre mim e o camponês há uma diferença de qualidade, proveniente da existência em mim do pensamento abstracto e da emoção desinteressada; e entre ele e o gato não há, no espírito, mais que uma diferença de grau.(...)
LEIA MAIS EM : Bernardo Soares - "Livro do Desassossego"
FONTE: http://www.pessoa.art.br/?p=773
quarta-feira, 29 de outubro de 2008
A "VERDADEIRA" INVERSÃO DE VALORES!
Mas se relembrarmos a ideia de Rousseau! Que disse que a primeira vez que um homem cercou uma porção de terra e afirmou, isto é meu! e nenhum outro homem foi capaz de ir contra tal afirmação!aí começou a exploração do homem pelo homem!
Veremos que hoje os homens que andam se descabelando com a maior crise do capitalismo de todos os tempos,são descendentes deste primeiro homem que cercou a tal da porção de terra! E são estes mesmos homens que propagam a falsa inversão de valores!Fazendo de conta que não enxergam as causas reais dos problemas!
Os falsos moralistas que acreditam que a educação está ruim porque não é como era antigamente,por exemplo!Sim,eles prefeririam que fosse como antigamente!Uma educação opressora,repressora,hipócrita,castradora,alienante...e sem espaços para o diálogo, para as conversas francas! por que assim era muito mais fácil dominar! explorar!
Esquecem-se que o mundo mudou,que a tecnologia,a ciência evoluiram!que as crianças e jovens não são quase nada parecidos com os de antigamente,e que portanto a escola que ainda mantém traços fortes da idade média, nada mais tem em comum com nossa época!
Quando as pessoas param de usar seus neurônios, e esperam que outros façam isso por elas! aí sim a falsa inversão de valores impera! porque infelizmente as causas verdadeiras que originam os problemas sociais, por exemplo, ficam nebulosas,
escondidas debaixo da ganância, da injustiça , da desumanidade de alguns que preferem que muitos sofram, ao invés deles verem-se prejudicados!
"O homem é o lobo do homem" como disse Tomaz Hobbes
NADIA STABILE - 29/10/08
quarta-feira, 30 de julho de 2008
WILHELM REICH,
A CRIANÇA ENTRE
ROUSSEAU E FREUD
Zeca Sampaio
José Gustavo Sampaio Garcia. Mestre em Educação. Doutorando em Educação pela FeUSP. Professor da Universidade Santa Cecília.
Este trabalho tem por objetivo traçar um quadro preliminar da concepção de criança na teoria reichiana, a partir de uma busca em seus próprios escritos, ao mesmo tempo, confrontando suas idéias com alguns elementos das diversas concepções de criança através da história humana. Para este confronto será utilizado o quadro dialético entre a tradição rousseauniana e a tradição do modernismo expressa mais claramente na teoria freudiana.
Singer (1997) aponta esta contradição entre a posição de Rousseau, a qual se assenta em uma visão positiva quanto à natureza da criança, e a posição da educação da cultura moderna que tenta impor à criança uma nova natureza. Ela ressalta a crítica de Foucault a esta educação disciplinadora, que procura domar o corpo tornando-o submisso.
Vamos encontrar também em Reich uma crítica explícita a esta educação disciplinadora que impede as manifestações mais importantes da vida.
Em busca de uma compreensão do funcionamento humano
Reich inicia sua busca por uma compreensão do ser humano a partir de seus estudos na faculdade de medicina, mas em especial quando ingressa nas fileiras da psicanálise, tornando-se discípulo de Freud. Esta adesão ao pensamento freudiano lhe permite conciliar elementos aparentemente contraditórios de sua formação que precisarão ser sintetizados para que surja a sua visão de homem e, com ela, sua concepção de criança.
Durante seus estudos na faculdade de medicina, Reich experimenta o conflito entre as explicações mecanicistas e vitalistas para a vida. Reich (1975a, p. 30) mesmo se define, em seu tempo de estudante de medicina, como um mecanicista de pensamento “ultra-sistemático”. Por outro lado, passa a se interessar pelos escritos de Bergson e se torna um grande admirador de seu pensamento. Mecanicismo e vitalismo vão se tornar para ele os representantes maiores da crise que se estabelece na ciência, especialmente em sua busca de compreensão do funcionamento vital. “A questão, ‘O que é a Vida?’ Estava por trás de tudo o que aprendia” (Reich, apud Sharaf, 1983, p. 55).
O interesse por Bergson e por uma visão menos determinista, menos cientificista da vida parece estar em contradição com a formação científica do jovem médico. Mas é exatamente esta visão composta por dois pares antitéticos que traz em si o germe de onde brotará o pensamento reichiano.
Para que estes elementos embrionários do pensamento reichiano possam ser desenvolvidos faz-se necessário que ele encontre um ambiente metodológico capaz de satisfazer tanto a sua necessidade de um método sistemático e verificável, isto é, que seja científico, como a sua busca por uma abordagem capaz de compreender o fenômeno vivo, com sua parcela de indeterminação e unicidade.
E é nesse contexto de crise, entre a tradição mecanicista, positivista da ciência natural de sua formação em medicina e o questionamento filosófico ao determinismo de Bergson, que Reich encontra Freud e seus escritos. A personalidade simples e direta do criador da psicanálise encanta o jovem Reich. Mas, é a atitude experimental, científica, baseada na observação, formulação de hipóteses e teste dessas hipóteses através de novas observações, juntamente com uma teoria da sexualidade com uma visão mais profunda e mais abrangente, considerando a sexualidade para além do papel da reprodução, que fazem com que ele resolva se dedicar ao estudo da psicanálise.
A posição da psicanálise no contexto das ciências que estudam o homem é bastante estratégica. Alguns autores como Japiassu a classificam em uma posição oposta a das psicologias de inspiração positivista, já dentro da fenomenologia ela é muitas vezes criticada como uma abordagem determinista, na medida em que busca as causas históricas inconscientes do comportamento humano.
Figueiredo (1991, p. 27) divide em duas grandes tendências as matrizes do pensamento psicológico, a cientificista e a romântica:
- De um lado se situam aqueles que procuram seguir o modelo das ciências naturais. Buscam a quantificação, os modelos mecanicistas, “classificações e leis gerais de caráter predicativo”.
- De outro, aqueles que acreditam que por ser o objeto das ciências humanas um objeto diferente do objeto das ciências naturais, faz-se necessário o desenvolvimento de uma metodologia própria compatível com este objeto.
Mais adiante, acaba por situar a psicanálise em ambas as matrizes já que vê nela um aspecto “determinista funcional” que a coloca ao lado das teorias funcionalistas de caráter cientificista (1991, ps. 95-100), ao mesmo tempo em que a inclui entre as matrizes compreensivas de influência romântica, por seu aspecto interpretativo (1991, ps. 167-169).
Esta característica intermediária, ou, no dizer de Figueiredo (1991, p. 99) “esta terra de ninguém epistemológica em que (a psicanálise) se originou”, entre a objetividade determinista e a intersubjetividade humanista, pode ter sido um motivo importante para a adesão de Reich às suas fileiras.
Entendo esta “terra de ninguém” como a descrição do fato de que Freud inaugura um território novo para a compreensão do homem.
É uma época em que a oposição entre uma psicologia científica nascente, de paradigma cientificista, positivista e uma psicologia de tradição introspectiva, com raízes na filosofia caracteriza o debate em torno do que é o homem. A primeira via o homem como absolutamente determinado por processos biológicos internos, ou por seu aprendizado de comportamentos, que nega a existência e a possibilidade da liberdade humana. Lembre-se aqui de Skinner. A segunda via o homem como consciência autodeterminada, não dependente de processos biológicos, capaz de decidir a partir de suas próprias determinações, ou no dizer de Sartre, seu próprio projeto, tendo a liberdade como valor fundamental. É só lembrarmos do próprio Sartre e, mais tarde, um Rogers.
A descoberta do inconsciente por parte de Freud relativiza esta segunda posição ao afirmar a existência de motivações para a ação e decisão humanas que estão fora do campo da consciência. Por outro lado, a proposta de um Ego intermediador entre as pulsões instintuais e a realidade exterior, contrariam a idéia de um determinismo absoluto.(...) LEIA NA ÍNTEGRA EM:
domingo, 6 de julho de 2008
sexta-feira, 23 de maio de 2008
LIBERDADE
EM ROUSSEAU
NO LIVRO "EMÍLIO"
Por Luiz Felipe Netto de Andrade
A educação natural de Rousseau é uma tentativa de mostrar como
as paixões, se liberadas da deformação provocada pela opinião social, po-
dem ser moralmente corretas. Se o Emílio, afirma Rousseau, é um tratado so-
bre a bondade natural do homem, esta bondade está fundada sobre a liber-
dade, e, sobretudo, sobre a liberdade das paixões.
PALAVRAS-CHAVE: educação, bondade natural, liberdade
Na Carta a Philibert Cramer, de 13 de outubro de 1764, Rousseau
sugere que a análise atenta de seu pensamento filosófico deve ser em-
preendida a partir da leitura do Emílio (Rousseau, 1929, p.339). Segundo
o autor, ele permite melhor compreender a ordem entre seus escritos e
alcançar os princípios fundamentais de seu “sistema”. Aceitando a in-
dicação e o desafio proposto, o presente artigo tem como objetivo re-
construir argumentos centrais desenvolvidos por Rousseau acerca da
constituição da noção de liberdade segundo o Emílio, isto é, segundo as
duas etapas que caracterizam o seu conteúdo, a educação pela liberdade e a educação para a liberdade.
A proposição que inicia o capítulo primeiro do Contrato Social, “o
homem nasceu livre e por toda parte se encontra sob grilhões” (Rous-
seau, 1964b, p.351), encontra o seu exemplo no Emílio. Nesse “romance
da natureza humana”, Rousseau tem como objetivo principal demons-
trar que o homem da natureza, “saindo das mãos do Autor das coisas”,
difere radicalmente do homem civil, que “nasce, vive e morre na escra-
vidão” (Rousseau, 1969a, p.63). Como se manifesta, pergunta o autor, a
liberdade natural do homem? No âmbito físico, ela se identifica com a
necessidade natural de movimento, cujos impedimentos à sua satisfa-
ção cria obstáculos ao desenvolvimento normal da criança e engendram
efeitos físicos nefastos. Se a liberdade é um bem e a necessidade de
movimento é a sua primeira manifestação, o uso “desnaturado” (déna-
turé) da mesma representaria um excesso condenável, pois toda justifi-
cação desta prática não passaria de raciocínios inúteis da nossa falsa
sabedoria jamais confirmados por nenhuma experiência. Nessa pers-
pectiva, pode-se afirmar que uma educação adequada é aquela que res-
peita a liberdade física da criança. Nas palavras de Rousseau:
Da multidão de crianças que, entre povos mais sensatos do que nós, são
criadas com toda a liberdade de seus membros, não se vê uma só que se fira ou
se mutile; não dariam a seus movimentos a força que pudesse torná-los perigo-
sos e, quando assumem uma posição violenta, a dor logo as adverte de que de-
vem mudá-la. (Rousseau, 1969a, p.255-56)
Esta liberdade de movimento deve ser preservada quando a criança
cresce, uma vez que os seus efeitos serão benéficos para o desenvolvi-
mento de seu corpo (Rousseau, 1969a, p.278). Quando a criança conclui
alguns progressos e as suas faculdades estão finalmente desenvolvidas,
alcançando o estágio em que deveremos considerá-la um ser moral, sua
verdadeira liberdade, segundo Rousseau, ultrapassa a liberdade inicial
de movimento e se transforma numa liberdade da vontade. Mais exata-
mente, a criança é livre quando é capaz de realizar a sua vontade. Mas o
que significa afirmar exatamente “fazer a sua vontade” (faire sa volonté)?
É, segundo o autor, ser capaz de bastar a si mesmo sem apresentar nenhu-
ma dependência externa: “O que faz a sua vontade é aquele que não precisa
para tanto colocar o braço de outrem na ponta dos seus. Segue-se daí que o pri-
meiro de todos os bens não é a autoridade, mas a liberdade. O homem verda-
deiramente livre só quer o que pode e faz o que lhe agrada. (Rousseau, 1969a,
p.309)
Se tal é a autêntica manifestação da liberdade, só o homem da na-
tureza pode ser livre, pois tem forças suficientes para satisfazer as suas
necessidades. Da sua fraqueza, a criança não goza da mesma vanta-
gem, suas necessidades ultrapassam sempre as suas forças. Ela só po-
de, desse modo, usufruir “de uma liberdade imperfeita, semelhante
àquela que gozam os homens no estado civil” (Rousseau, 1969a, p.310).
Algumas crianças, porém, não parecem nem mesmo atingir esta liber-
dade imperfeita e vivem, por isso, numa espécie de escravidão em rela-
ção às suas necessidades e paixões. Mas este fenômeno não pode ser
atribuído à natureza, a servidão que dela decorre é fruto de uma educa-
ção deficiente que não soube
“distinguir com cuidado a verdadeira necessidade, a necessidade natural,da necessidade de fantasia que começa a nascer” (Rousseau, 1969a, p.312),
acostumando a criança ao
péssimo hábito de tudo adquirir sem nenhuma reserva.
No indivíduo humano que alcançou o estágio consciente e moral de
seu desenvolvimento, a experiência da falta e do remorso seria, na visão
de Rousseau, uma prova irrefutável da liberdade da vontade. É o que
nos ensina o vigário em sua profissão de fé: “Quando me entrego às ten-
tações, ajo conforme o impulso dos objetos externos. Quando me censu-
ro por tal fraqueza, só ouço a minha vontade; sou escravo por meus ví-
cios e livre por meus remorsos; o sentimento de minha liberdade só se
apaga em mim quando me depravo e enfim impeço a voz da alma de se
elevar contra a lei do corpo” (Rousseau, 1969a, p.586). Se do ponto de
vista da essência, todavia, a liberdade da vontade é absoluta, do ponto
de vista da existência, porém, ela não é exercida plenamente e pode
mesmo desaparecer. De fato, na sua efetividade a vontade encontra no-
vos obstáculos. São os elementos que constituem as necessidades e de-
sejos dos indivíduos. O homem realmente livre faz tudo o que lhe agrada
e convém, basta apenas deter os meios e adquirir a força suficiente para
realizar os seus desejos. “Quem faz o que quer, diz Rousseau, é feliz
quando basta a si mesmo” (Rousseau, 1969a, p.310). Esta auto-suficiên-
cia, assegurada ao homem no estado de natureza, é destruída pela so-
ciedade corrompida que multiplica os desejos tornando-os ilimitados. A
sociedade cria, assim, necessidades artificiais que Rousseau chama de
fantaisie (Rousseau, 1969a, p.312). Qual liberdade poderia existir quan-
do o homem, cujas forças são limitadas, se vê impotente diante das pai-
xões de seus desejos? Ele pode, certamente, superar as suas forças com
as forças dos outros; essa solução, no entanto, tem um alto preço, equi-
vale a encontrar uma saída na própria servidão. Querer satisfazer suas
necessidades artificiais significa submeter-se inevitavelmente à vontade dos outros. Esta lógica da dependência, alerta Rousseau, é habilmente explorada pelos governos constituídos (Rousseau, 1964a, p.7, nota).(...) CONTINUA EM :http://www.scielo.br/pdf/trans/v28n1/29409.pdf.
*SOBRE O LIVRO "EMÍLIO" DE J.J.ROUSSEAU : http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/emilio.htm
*OBRAS DE J.J.ROUSSEAU ON LINE :http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=164
*LIVRO EBOOK "EMÍLIO" J.J.ROUSSEAU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio%2C_ou_Da_Educa%C3%A7%C3%A3o
terça-feira, 29 de abril de 2008
e neoliberalismo
Livro de P.Ghiraldelli Júnior
O estudo desse período, que se situa aproximadamente entre o século XVI e o XVIII, se baseia essencialmente nas idéias de pensadores como Rousseau e Montaigne, entendidos pelo pesquisador como importantes co-autores das noções de infância e da pedagogia moderna.
Embora a compreensão da criança como indivíduo, ligada ao próprio nascimento da noção de infância, já estivesse se delineando durante o século XVI, é interessante perceber que esse ideário ainda não havia permeado os lares e pensamentos familiares. Os pais e parentes insistiam em tratar os pequenos como miniaturas de adultos tal qual na Idade Média. Entretanto, Montaigne afirma que agora as crianças também eram tratadas como brinquedos[2], sendo paparicadas e mimadas ao extremo para diversão e deleite dos adultos: “Vocês (os pais) não são homens modernos na medida que estão presos à ludicidade e não à razão, tratando as crianças para obter prazer lúdico, não cuidando dos pequenos por meio de uma disciplina que vise o bem deles para o futuro”. (interpretação do autor sobre o pensamento de Montaigne, p.15).
Enquanto Montaigne se posiciona como verdadeiro opositor à paparicação, Rousseau vai enfocar a própria concepção de infância setecentista (século XVIII). Segundo ele, esse seria um período precioso, no qual ainda não fomos corrompidos pela sociedade e seus vícios, e que deveria, portanto, ser preservado a fim de estimular no pequeno indivíduo o cultivo da intimidade, da privacidade; numa visão tipicamente liberal. Visto como um momento especial a ser protegido, o mundo infantil se reflete na própria escola. Antes entendido como algo genérico, o ambiente escolar vai se transformando e se conectando diretamente a esse mundo da infância, tentando diminuir ao máximo as influências externas: "Assim a pedagogia que nasce com os tempos modernos, em certo sentido - e insisto no 'certo sentido' -, objetiva apartar a criança do lar, do trabalho, enfim da chamada realidade" (p.18).
A partir da segunda metade do século XIX, a pedagogia infantil que havia, até então, seguido os preceitos dos pensamentos humanista e liberal, chega a uma impasse, pois precisa enfrentar as contradições de uma sociedade em transformação e influenciada profundamente pela chamada Revolução Industrial, "a sociedade do trabalho".
A criança que, segundo pensadores como Rousseau, era destinada à escola, começa a ingressar no mundo da fábrica, com sua ambientação nada educacional, sua carga horária intensamente desgastante, seus trabalhos repetitivos e monótonos que em nada lembram brinquedos infantis, enfim no mundo capitalista em desenvolvimento acelerado. Quando se inicia o século XX, a escola torna-se, de direito, o lugar da infância, mas não seu lugar de fato[3]. O que parecia estar no próprio cerne da modernidade se torna problemático e irreal, era preciso reformular as perspectivas pedagógicas existentes até então: "Não podendo lutar contra o inimigo, se junte a ele - é o que faz o pensamento pedagógico na medida em que se propõe a resolver a tensão entre escola e trabalho; de certo modo, subordina a primeira ao segundo" (p.21).
O ensino caracterizado pelo liberalismo (conceito moderno) é agora pejorativamente denominado de "ensino livresco", afastado da realidade e do mundo adulto; e, embora o pensamento pedagógico da época tenha se fragmentado em linhas diversas, uma certa apologia ao diálogo entre educação e trabalho é uma característica comum à grande maioria deles (dentre eles podemos destacar pensadores como Durkheim, Dewey[4] e Gramsci[5]).
A própria concepção de infância vai gradualmente se modificando, principalmente com as contribuições de Piaget[6] e outros estudiosos defensores da noção da criança como um ser ativo. As investigações do mundo infantil agora permeado pelo trabalho ratificam a idéia da criança que não deve somente aprender a escutar, mas que também precisa de uma conjuntura propícia à aprendizagem do fazer e do falar. Segundo Piaget, é necessário, além de incentivar a criança a agir, tomar decisões, fazer com que ela tome consciência de seus atos.(...)
http://www.uff.br/creche/docs/concepcao_educacao_infantil_01_01.doc.
















.tif.jpg)